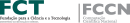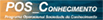Autor(es):
Alves, Daniel 
Data: 2001
Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10362/4657
Origem: Repositório Institucional da UNL
Assunto(s): História; Igreja; Minho; Dízimos; Rendeiros; Século XIX
Descrição
Dissertação de Mestrado em História dos Séculos XIX-XX (secção do século XIX) O dízimo que encontramos no final do Antigo Regime é o resultado de uma longa
evolução, através da qual o peso dos séculos, as transformações institucionais,
económicas e sociais foram influindo em vários aspectos. Convém aqui caracterizar, em
linhas gerais, essa prestação e a forma como ela era encarada nas vésperas da sua
abolição, época que será objecto deste trabalho1.
O dízimo representou em Portugal, ao longo dos tempos, na grande maioria dos
casos, um valor de 10% sobre a produção agrícola e o trabalho humano2. Os chamados
dízimos reais ou prediais cobravam-se dos mais variados produtos agrícolas. Os mistos
eram constituídos pelo dízimo dos animais e dos produtos de origem animal. Havia
ainda os dízimos pessoais ou conhecenças que recaíam sobre o fruto do trabalho
humano, de várias profissões, como, por exemplo, “almocreves, notários, professores,
médicos e advogados, etc.”3. A cobrança podia ser feita em géneros, em dinheiro ou
mista (conjugando-se géneros e dinheiro). Na maioria dos casos a colecta era em géneros e apenas nos dízimos pessoais o dinheiro terá representado um papel relevante4.
Os métodos dessa cobrança podiam ser dois: administração directa, quando os
proprietários das dizimarias, através dos seus funcionários, de procuradores ou eles
mesmos, faziam a recolha dos dízimos; arrendamento, quando essa colecta era
contratada com um rendeiro, ficando este, através de um pagamento acordado, com o
direito de proceder à cobrança. Neste caso eram feitos contratos verbais ou escritos
(mais frequentes) onde se definiam as formas de pagamento e os direitos e garantias dos
rendeiros e proprietários.