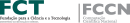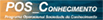Autor(es):
Gomes, Ana Paula 
Data: 2001
Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10773/4216
Origem: RIA - Repositório Institucional da Universidade de Aveiro
Assunto(s): Resíduos sólidos - Teses de doutoramento
Descrição
Pode definir-se a compostagem como uma decomposição biológica
aeróbia da matéria orgânica, produzindo um material estável,
higienizado, e que é benéfico para os solos e para o crescimento
vegetal. Os produtos de decomposição são CO2, H2O e material sólido
que passou pelo processo de humificação, assumindo a designação de
composto. Por alguns considerado “em parte uma ciência, mas
principalmente uma arte” (Ball, 1998), o processo de compostagem tem
sido francamente estudado, mas só parcialmente compreendido.
A investigação no domínio da compostagem tem-se orientado tanto para
o estudo dos fenómenos a montante como a jusante do processo.
Os estudos a jusante têm como objetivo caracterizar as propriedades
físico-químicas e microbiológicas do composto final obtido (razão C/N,
pH, teor húmico, etc) tendo em vista a avaliação da sua eficiência como
agente de fertilização de solos, o que tem sido feito, por exemplo, com a
realização de ensaios de fitotoxicidade e de biodisponibilidade (tanto em
vaso como de campo). Neste domínio de aplicação existe já uma
bibliografia e experiência acumuladas bastante vastas.
Se este orientação representa certamente o ‘lado prático’ da
investigação, não é menos certo que a compreensão dos fenómenos
físico-químicos que estão na base da transformação dum substrato
orgânico complexo num produto humificado estável não é menos
importante. Daqui a relevância dos estudos a montante.
Existe já um número considerável de modelos matemáticos para
descrever o mecanismo da compostagem. Todos foram genericamente
validados por dados experimentais. A sua complexidade matemática e a
exigência do conhecimento de, literalmente algumas dezenas de
parâmetros físico-químicos e biológicos (na maioria dos casos
inacessíveis à determinação experimental em cada caso concreto de
substrato e condições processuais), tornam a divulgação e aplicação
destes modelos pouco prática, pese embora a sua indiscutível utilidade
na compreensão mais profunda da fenomenologia da fermentação
aeróbia.
Com o presente trabalho pretende-se acrescentar algo ao conhecimento
acumulado, tendo como objetivo encontrar um modelo para o processo
que, contabilizando os princípios básicos da física, química e
microbiologia, fosse de aplicação mais simplificada e prática
(nomeadamente em projeto de engenharia), e que pudesse ser validado
por resultados.
Na realização experimental uilizaram-se dois tipos de substrato: um
simples (fibra celulósica) e um complexo (arroz completo: mistura de
farinha, farelo e casca). Para além de estes substratos terem uma
composição invariável, no caso do arroz trata-se dum ‘substrato natural’
pois a utilização de casca dispensa o uso de agentes de porosidade
convencionais, já que a casca é praticamente não biodegradável e
confere a porosidade necessária à manutenção de condições aeróbicas.
A utilização destes dois tipos de complexidade de substrato tinha em
vista a obtenção de informação relativa à sequência de diversos tipos de
populações microbiológicas durante o processo (embora não tenha sido
feita a sua caracterização, mas apenas analisadas as formas das curvas
de produção de CO2). Usou-se um reator descontínuo com controle
automático de temperatura de modo a ter sempre condições isotérmicas
durante os ensaios; para isso cada reator dispunha de uma camisa
externa onde circulava ora um fluido frio ora um quente, provenientes de
dum banho de água aquecido e dum criostato, respectivamente. Durante
cada ensaio foi monitorizada a composição dos gases de saída por meio
de cromatografia gasosa; a injeção da amostra e a sua análise
cromatográfica eram automáticas, controladas em tempo real por
computador, usando ‘software’ e ‘hardware’ desenhados para o efeito.
Para, além disso, foram tiradas amostras do substrato do reator ao longo
de cada ensaio para determinação das principais características físicoquímicas.
Os parâmetros cuja variação foi estudada foram: temperatura
(30 a 60ºC) e % de O2 nos gases de entrada (10 a 50% vol.).
No âmbito da modelização do processo foram concebidos vários
modelos com o intuito de justificar os resultados experimentais obtidos.
Destes modelos destacam-se três: (1) modelo difusivo, (2) modelo
cinético de agregação de parâmetros e (3) modelo cinético de
segregação de parâmetros (por sua vez subdividido em dois
submodelos: de penetração total, e de penetração parcial ou biofilme
externo). O modelo difusivo pretendeu simular a situação em que a
cinética do processo é tão rápida que a velocidade do processo global
era limitada pela difusão na camada limite externa das partículas. No
modelo cinético de agregação de parâmetros foi simulada a situação
em que o substrato sólido era o reagente limitante, que a concentração
de oxigénio não intervinha na cinética e que a reação tinha lugar
simultaneamente em todos os pontos no interior das partículas (não se
gerando, por conseguinte gradientes internos de concentração) embora
variando de intensidade ao longo do tempo. Finalmente no modelo
cinético de segregação de parâmetros foi simulada a situação
contrária, em que o oxigénio era o reagente limitante e que a velocidade
do processo era dependente da sua concentração intrapartícula;
consideraram-se aqui duas situações: numa delas o oxigénio difunde-se,
com penetração total, no interior dos poros das partículas para reagir
com o biofilme interno cobrindo os poros e na outra o oxigénio difunde-se
no interior dum biofilme criado na superfície externa das partículas
(penetração parcial); em qualquer dos casos geram-se gradientes de
concentração significativos no interior das partículas e a modelização do
processo foi feita usando o conceito de fator de eficiência, por analogia
com as reações catalíticas gás/sólido, mas em que os locais ativos
existem no biofilme reativo.
A análise dos resultados experimentais permitiu concluir que no caso da
pasta, a temperatura tem um efeito fortemente inibidor do processo,
começando logo a cerca de 30ºC; no caso da mistura de farinha a
temperatura tem um efeito benéfico até cerca de 60ºC, a partir da qual
parece começar a notar-se um efeito de inibição. No que respeita ao
efeito da concentração de oxigénio, ele foi estudado apenas no caso da
mistura, tendo-se constatado que a velocidade do processo não é
influenciada na gama de 10-50% (vol) de O2.
Os resultados experimentais puderam ser interpretados com base no
modelo de agregação de parâmetros, em que a velocidade do processo
global é limitada pela concentração de substrato sólido, podendo ser
simulada por um conjunto de reações de pseudo-primeira ordem em
série (hidrólise, seguida de oxidação microbiológica), tendo-se
determinado os respectivos parâmetros cinéticos e sua dependência da
temperatura. Este modelo permitiu concluir que a hidrólise era o passo
mais lento, embora dificilmente pudesse ser considerada como limitante
da velocidade global do processo. Esta observação está
substancialmente de acordo com os resultados experimentais que não
detectaram efeito significativo da concentração de oxigénio, e sugere
que, para efeitos práticos, o aumento da velocidade do processo tem de
conseguir-se não, como muitas vezes sucede, à custa de inoculação de
microorganismos típicos da fermentação aeróbia, mas sim da
potenciação da hidrólise, por exemplo, por adição de enzimas hidrolíticos
(ou correspondentes microorganismos).
A análise dos restantes modelos revelou que a difusão nunca controlou a
velocidade global do processo, e que o oxigénio dificilmente poderá ter
sido o reagente limitante de modo a criar significativos gradientes de
concentração intrapartícula; ambos os casos estão de acordo com a
observação Doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente