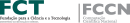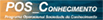Author(s):
Andrade, Rogério de 
Date: 2001
Persistent ID: http://hdl.handle.net/10437/637
Origin: ReCiL - Repositório Científico Lusófona
Subject(s): ORGANIZAÇÕES; TEORIA ORGANIZACIONAL
Description
As organizações são responsáveis por uma significativa fatia das nossas experiências de vida e constituem um invólucro que raramente nos abandona, que atravessamos diariamente e nos deixa marcas, umas mais benévolas e gratificantes,outras aterradoras ou estigmatizantes. As organizações são tudo isto e ainda veículos, talvez dos mais importantes, que criámos para cooperar e, paradoxalmente, nos magnificarmos individual ou colectivamente. Neste nosso estudo procurámos descrever e interpretar o funcionamento das organizações,
concentrando-nos em processos que consideramos hoje particularmente críticos: as institucionalizações
de sentido. A nossa hipótese de
partida levou-nos a sustentar que os processos de institucionalização e de auto-institucionalização desempenham um papel central nas sociedades
actuais, submetidas mais do que nunca a brutais oscilações entre o orgânico e o inorgânico. A centralidade destes processos de auto-institucionalização tentada e, em alguns casos, consumada
decorre do facto de se assistir a uma crescente impregnação do social e do pessoal pelo institucional como condição para uma maior eficácia quer dos indivíduos, quer das organizações.
Institucionalizar significa encurvar a linha do tempo para fazer existir algo, criar um tempo
próprio para que um nome, uma imagem, um valor, uma rotina, um produto, enfim, um edifício
de sentido possa perdurar. Trata-se de um jogo que consiste em procurar as melhores oportunidades
para os nossos projectos e ambições
(aliás, no caso da nossa própria auto-institucionalização é como se disséssemos: suspenda-se o tempo linear para que esta representação
ou versão mítica de mim possa existir e vingar). De forma mais dramática ou mais lúdica, tal tipo
de jogo generalizou-se e tem como palco privilegiado, mas não exclusivo, os media. Em resumo:
institucionalizar é sempre «ralentir son histoire»
(Michel Serres), introduzir uma temporalidade mítica no tempo histórico da comunicação e
ocupar um lugar numa estrutura institucionalizada de memória, retirando daí consideráveis
vantagens simbólicas e materiais.
Não restringimos, pois, estas observações à esfera organizacional. A compulsão generalizada a tudo tornar instituição arrasta-nos a nós
próprios enquanto indivíduos, traindo um intenso desejo de permanecer, de resistir à volatilidade social, ao anonimato, de tal modo que podemos falar hoje em instituições-sujeito e em
sujeitos-que-se-modelam-como-instituições. Pela sua própria auto-institucionalização os indivíduos procuram criar um campo de influência, estabelecer uma cotação ou uma reputação, fundar um valor pelo qual possam ser avaliados numa «bolsa» de opinião pública ou privada. Qual o pano de fundo de tudo isto? O anonimato,
causador de tão terríveis e secretos sofrimentos. Alguns breves exemplos: a panteonização
ou, aliás, a «vontade de panteão» de André Malraux; o processo de auto-santificação de João Paulo II, como que a pré-ordenar em vida o percurso da sua própria beatificação; o génio canónico dos poetas fortes, teorizado por
Harold Bloom; o ímpeto fundacional que se manifesta na intrigante multiplicação no nosso país de fundações particulares civis criadas por indivíduos ainda vivos; ou, mais simplesmente, a
criação de um museu dedicado à vida e carreira musical da teen-diva Britney Spears, antes
mesmo de completar vinte anos.
Mas, afinal, o que fizeram desde sempre os homens quando institucionalizavam actividades,
práticas ou símbolos? Repetiam um sentido e,repetindo-o, distinguiam-no de outros sentidos, conferindo-lhe um valor que devia ser protegido. A ritualização, ou, se se quiser, um processo de
institucionalização, envolve, entre outros aspectos, a protecção desse valor estimável para um
indivíduo, uma facção, um agrupamento ou uma comunidade. Processos de institucionalização, e
mesmo de auto-institucionalização, sempre os houve. Não encontraremos aqui grande novidade. Os gregos fizeram-no com os seus deuses,
institucionalizando no Olimpo vícios e virtudes bem humanas. Quanto às vulnerabilidades e aos
colapsos da nossa existência física e moral, as tragédias e as comédias helénicas tornaram-nos
a sua verdadeira matéria prima. A novidade reside sobretudo nos meios que hoje concebemos para realizar a institucionalização ou a
auto-institucionalização, bem como na escala em que o fazemos. A nossa actual condição digital, por mais que a incensemos, não muda
grande coisa à questão de base, isto é, que as projecções de eternidade permanecerão enquanto
o inorgânico continuar a ser o desafio que ciclicamente reduz a nada o que somos e nos faz
desejar, por isso mesmo, ostentar uma máscara de duração.
Defendemos também neste estudo a ideia de que as narrativas, sendo explícita ou implicitamente o conteúdo do instituído, são simultaneamente o meio ou o operador da institucionalização
de sentido (não o único, certamente, mas um dos mais importantes). O acto de instituir é consubstancial do acto narrativo.
«Instituir» algo é relatar, com pretensão à legitimidade, «quem é», «o que é» e «a que» privilégios e deveres fica submetido esse instituído,
trate-se de uma ideia, valor, símbolo, organização ou pessoa. Mesmo quando a complexidade
do discurso jurídico parece querer
significar que se instituem apenas normas ou leis, bem como o respectivo regime sancionatário, o que, na verdade, se institui ou edifica (o que ganha lugar, volume, extensão material e
simbólica) são sempre redes de relações e redes de sentido, isto é, narrativas, histórias exemplares. A institucionalização é o mecanismo pelo qual respondemos, narrativamente, à dispersão dos sentidos, a uma deficiente focagem da atenção social ou da memória, e procuramos
estabilizar favoravelmente mundos de sentido, sejam eles reais ou imaginados. Apresentemos, muito sumariamente, algunspontos que nos propusemos ainda desenvolver:
– Num balanceamento permanente entre orgânico e inorgânico (pois os tempos são de dispersão do simbólico, de des-legitimação,
de incerteza e de complexidade), as organizações erguem edifícios de sentido, sejam eles a «cultura empresarial», a «comunicação
global», as «marcas», a «imagem» ou a «excelência». Neste contexto, a mera comunicação regulada, estratégica, já não cumpre
eficazmente a sua missão.
– A institucionalização é um dos meios para realizar a duração, a estabilização de projectos
organizacionais e de trajectos individuais.
Mas nem os próprios processos de institucionalização se opõem sempre eficazmente às bolsas de inorgânico, potencialmente desestruturantes,que existem dentro e em torno da organização. Os processos de institucionalização
não constituem uma «barragem contra o Pacífico». A erosão e o colapso espreitam-nos, ameaçando a organização, como ameaçam igualmente as ambições dos indivíduos na esfera pública ou mesmo privada.
– Uma das respostas preventivas e, em alguns casos, também reparadoras de vulnerabilidades,
erosões e colapsos (seja de estruturas,de projectos ou de representações) é a auditoria.
As auditorias de comunicação, aliás
como as de outro tipo, são práticas de desconstrução que implicam «fazer o percurso ao
invés», isto é, regressar do instituído à análise dos processos de institucionalização.
O trabalho de auditoria para avaliar desempenhos, aferindo o seu sucesso ou insucesso, começa a ser progressivamente requisitado
pelas organizações.
– Tivemos, aliás, a oportunidade de apresentar uma abordagem narrativa-estratégica de auditoria de comunicação, recorrendo, para o
efeito, a algumas intervenções que acompanhámos em diversas empresas e instituições, as quais, em vários momentos, se comportaram
como verdadeiras organizações cerimoniais, retóricas. Assim, começámos por destacar as dificuldades que uma jovem
empresa pode sentir quando procura institucionalizar, num mercado emergente, novos conceitos como os de produto tecnológico e fábrica de produtos tecnológicos. Vimos, em
seguida, como uma agência de publicidade ensaiou a institucionalização de um conceito
de agência portuguesa independente, ambicionando
alcançar o patamar das dez maiores
do mercado publicitário nacional. Uma instituição financeira deu-nos a oportunidade de observar posicionamentos de mercado e práticas de comunicação paradoxais a que chamámos bicéfalos. Por fim, e reportando-nos a um grande operador português de comunicações,
apresentámos alguns episódios erosivos que afectaram a institucionalização do uso de
vestuário de empresa pelos seus empregados. Haverá um conhecimento rigoroso das condições em que funcionam hoje as organizações
enquanto sistemas de edificação e de interpretação de sentido? Não o podemos afirmar. Pela nossa parte, inventariámos filiações teóricas, passámos em revista figurações, práticas e operatórias. Analisámos as condições em que se institucionalizam, vulnerabilizam, colapsam e reparam estruturas de sentido, seja nas organizações seja em muitas outras esferas
sociais e mesmo pessoais. Um glossário mínimo – com conceptualizações por nós próprios criadas ou «afinadas» – podia contemplar as seguintes entra das, entre muitas outras possíveis:
quadro projectado, quadro literal, mapa de intrigas, capacidade de intriga, tela narrativa, narração orgânica e fabuladora, narrativa
canónica, edifício de sentido, estrutura institucionalizada de memória, memória disputada,
cotação social, processo de institucionalização e de auto-institucionalização,institucionalização sob a forma tentada, actividade padronizada, trabalho de reparação de sentido. Diríamos, a terminar, que a comunicação,
tal como a entendemos neste estudo, é o processo pelo qual os indivíduos e as organizações
realizam a institucionalização, isto é, disputam, mantêm viva e activa uma memória e, ao mesmo tempo, previnem, combatem ou adiam
as erosões e os colapsos de sentido que sempre acabam por vir dos seus ambientes interiores ou
exteriores. A comunicação está hoje, claramente, ao serviço da vontade de instituir que se
apoderou dos indivíduos, dos grupos e das organizações,e pela qual enfrentam e respondem aos inúmeros rostos do inorgânico, a começar, como tantas vezes referimos, pelo anonimato. Não estranharemos, então, que seja por uma comunicação com vocação institucionalizadora que marcamos e ritualizamos (fazemos repetir,
regressar ou reparar) o que, para nós, indivíduos ou organizações, encerra um valor a preservar e
que julgamos encerrar um valor também para os outros. Notícias